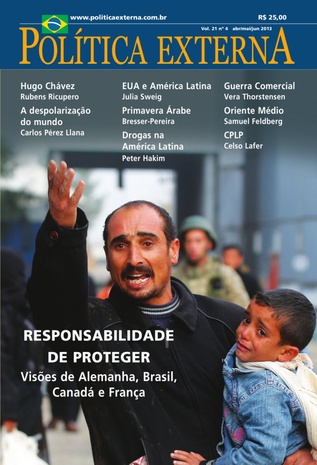
A partir de 2001, começou-se a falar sobre a R2P. Diante da concorrência que representa esse outro conceito, o que fazem os promotores franceses do direito de ingerência ? Argumentam que a R2P nada mais é que o “novo nome” do direito de ingerência. Essa é a posição oficial da França há anos. Não só Mario Bettati e Bernard Kouchner, mas também o embaixador da França nas Nações Unidas, ao invocar a R2P para a intervenção militar na Birmânia, em 2008 e, três anos depois, o presidente Sarkozy e seu ministro Alain Juppé, no caso da Líbia. Todos dizem : “nós inventamos a R2P há 20 anos, é apenas o direito de ingerência que mudou o seu nome”. Eles cometem dois erros. Primeiro, a R2P é muito mais ampla do que a noção de ingerência, utilizada para designar uma intervenção militar. A R2P é uma atitude em relação a uma crise humanitária - sentir-se “responsável” em proteger as vítimas - que pode se materializar de várias maneiras. Segundo, a R2P foi construída não só sem o apoio do direito de ingerência, mas contra ele. Porque a R2P realmente não oferece nada de novo e o vocabulário que ela usa é problemático, pode-se ser cético a seu respeito. É o que explica que o termo “intervenção humanitária” não está prestes a desaparecer, ainda mais pelo fato de que eles não designam a mesma coisa. A R2P é muito mais ampla do que a intervenção, que é apenas um de seus meios. O autor prefere chamar a R2P de “intervenção militar justificada por razões humanitárias”. Ele defende uma terceira via, que critica a R2P sem renunciar à legitimidade da intervenção, em alguns casos e com certas condições.
A noção de “Responsabilidade de Proteger” (R2P) é uma das mais citadas no cenário internacional do início do século XXI, e essa popularidade muitas vezes se faz à custa de sua precisão. Mais citada que compreendida, ela dá origem a uma série de aproximações, ou de mitos. Este artigo evidencia os principais deles.
A R2P não é uma ideia recente
Ao contrário de um preconceito generalizado, a ideia de uma “Responsabilidade de Proteger” não data do relatório epônimo da Comissão Internacional sobre Intervenção e Soberania Estatal (ICISS), que a tornou conhecida em 2001 [1]. Ela tem várias fontes. A primeira, antiga, é a ideia de soberania condicional, já teorizada pelos juristas do final do século XIX. O princípio de não intervenção protege apenas os Estados “realmente dignos desse nome”, alertava Rolin-Jaequemyns em 1876 [2], e “a soberania deve ser respeitada apenas quando é respeitável, mas ela não o é quando viola os deveres internacionais”, acrescentava Fauchille em 1922 [3]. Isso é chamado de “intervenção por causa de abuso de soberania” [4] ou “desvio de soberania” [5].
As outras fontes datam dos anos 1990, e se tornaram possíveis com o final da Guerra Fria. Com o bloco soviético desmoronou a maior força anti-intervencionista. A partir de então é possível para as grandes potências intervir sem arriscar deflagrar uma guerra mundial, assim as lutas nacionais de liberação e outras veleidades secessionistas podem se expressar, como o exemplo iugoslavo. Adicione-se a isso os esforços da diplomacia francesa para promover o direito de assistência, o desenvolvimento da prática da ação humanitária, o papel crescente das mídias e a consagração do chamado “efeito CNN”, o desenvolvimento de um discurso global sobre os direitos humanos, a proliferação de instrumentos disponíveis e, finalmente, a globalização, que reduz a distância entre a vítima e observador-interventor potencial.
Durante esse período, marcado pela não intervenção culpada em Ruanda, em 1994, e pela intervenção no Kosovo, em 1999, pelo menos três ideias preparam para a R2P. A primeira é a noção de “segurança humana” que surgiu no início dos anos 1990, definida pela primeira vez pelo PNUD como a soma de 7 elementos (segurança econômica, segurança alimentar, segurança sanitária, segurança ambiental, segurança pessoal, segurança coletiva e segurança política), de forma muito ampla, depois restrita no final da década, ao custo humano de um conflito violento.
A segunda é a redefinição da soberania como responsabilidade, feita por Francis Deng, então representante do secretário-geral sobre as pessoas deslocadas internamente. Deng afirma que, “para merecer o nome de governo, um governo deve a partir de agora cumprir determinadas condições que envolvem todas as limitações do uso do poder” e que “a comunidade internacional” tem a “obrigação” de assegurá-las [6].
A terceira é o que às vezes é chamado de “doutrina Annan”, segundo a qual a soberania não é mais um baluarte atrás do qual todos podem cometer extorsões. Em 2000, Annan observou, por um lado, que “nenhum princípio jurídico – nem mesmo o da soberania – justificaria os crimes contra a humanidade” [7] e, por outro lado, que “no fundo, trata-se de um problema de responsabilidade : em caso de violações maciças dos direitos humanos universalmente aceitos, temos a responsabilidade de agir” [8]. Na virada do milênio, ele articula claramente a questão, mostrando os limites do vocábulo clássico da intervenção humanitária e o interesse de uma reformulação em termos de responsabilidade de agir.
A R2P não é o direito de ingerência ao modo francês
O conceito de “direito ou o dever de ingerência”, popularizado por Mario Bettati e Bernard Kouchner desde os anos 1980, tem sido amplamente criticado, e com razão. A fórmula é ambígua já que “direito” e “dever” são usados como sinônimos, quando eles não querem dizer a mesma coisa : o direito permite, mas o dever obriga. Confunde-se também a ingerência (ou intervenção) e a assistência. A ingerência é, por definição, ilegal, ela viola a soberania do Estado-alvo, mas a assistência envolve seu consentimento. Não existe “direito de ingerência” – é também o que respondia o presidente Mitterrand a seu ministro Kouchner [9], ao defender na tribuna da ONU um “dever de assistência humanitária”. O que consagra as resoluções da Assembleia Geral, por iniciativa da França, muitas vezes citadas pelos promotores do direito de ingerência (43/131, 45/100, 46/182), é na realidade um dever de assistência com o consentimento do Estado-alvo.
Há um abismo entre a representação comum do direito de ingerência na França e a realidade, o que mostra como estamos lidando com uma construção mitológica em que a mídia francesa têm certamente responsabilidade. Ela lhe dá uma nação (a França e somente ela), pais (Kouchner e Bettati, sistematicamente apresentados como seus “inventores”), uma data de nascimento (os anos 1980), um mito fundador (Cassin resistente a “Goebbels afirmando diante da Liga das Nações que ‘cada um é senhor em sua casa’” e uma influência exagerada (uma “teoria que mudou as relações internacionais”) [10]. Tudo que possa influenciar duravelmente o imaginário nacional.
Mas tudo isso é falso : a ideia do direito de ingerência não é nem recente, nem francesa, o termo em si tem pelo menos um século e meio (falava-se de “direito de ingerência” no século XIX). Cassin certamente opôs-se à Goebbels, mas não mais que seus colegas poloneses, noruegueses e tchecos e, longe de perturbar os negócios do mundo, a noção de direito de ingerência permaneceu, pelo contrário, muito francófona. No mundo anglófono, onde ela gera a maior suspeita é considerada um “debate intelectual parisiense fortemente personalizado, aparentemente insular e de uma natureza efetivamente incestuosa” [11].
A partir de 2001, começou-se a falar sobre a R2P. Diante da concorrência que representa esse outro conceito, o que fazem os promotores franceses do direito de ingerência ? Tratam apenas de seus prórios interesses : argumentam que a R2P nada mais é que o “novo nome” do direito de ingerência. Essa é a posição oficial da França há anos. Não só Mario Bettati e Bernard Kouchner, mas também o embaixador da França nas Nações Unidas, ao invocar a R2P para a intervenção militar na Birmânia em 2008 e, três anos depois, o presidente Sarkozy e seu ministro Alain Juppé no caso da Líbia. Todos dizem “nós inventamos a R2P há 20 anos, é apenas o direito de ingerência que mudou o seu nome”.
Eles cometem dois erros. Primeiro, confundem duas coisas diferentes, uma vez que a R2P é muito mais ampla do que a noção de ingerência, utilizada para designar uma intervenção militar. A R2P não é um meio preciso, como é a intervenção militar, mas uma atitude em relação a uma crise humanitária – sentir-se “responsável” em proteger as vítimas – que pode se materializar de várias maneiras. Primeiro, não se trata apenas de intervir, mas de prevenir, intervir e reconstruir, insistia a ICISS. Em seguida, a intervenção eventualmente não é necessariamente militar, ela o é apenas como último recurso. Em seu relatório de 2009 sobre a execução da R2P, o secretário- geral identifica três “pilares” e a intervenção militar concerne apenas o terceiro [12]. Não se pode dizer que a R2P é o “novo nome” do direito de ingerência quando eles não têm a mesma extensão.
Em segundo lugar, a R2P foi construída não apenas sem o apoio do direito de ingerência, mas contra ele e outra expressão tradicional, a intervenção humanitária. Sua razão de existir não é honrá-los ou ampliá-los, mas substituí-los. Ramesh Thakur, um dos autores do relatório ICISS, disse que Kouchner “é um desse ‘guerreiros humanitários’ impenitentes que prejudicaram tanto a imagem da intervenção humanitária que tivemos que reformulá-la na expressão mais consensual e politicamente defensável de Responsabilidade de proteger” [13]. Que os promotores do direito de ingerência se apropriem da paternidade de um conceito construído especificamente contra eles é no mínimo irônico.
A versão da ONU de 2005 não é uma consagração, mas uma desvalorização do conceito
A R2P operacional, aquela a que hoje se referem os Estados, não é a do relatório de 2001, que não engaja ninguém, mas aquela dos artigos 138-139 do documento final da Cúpula Mundial da ONU de 2005. Eles afirmam que “cada Estado é responsável por proteger as suas populações contra o genocídio, os crimes de guerra, a depuração étnica e os crimes contra a humanidade” (§138) e que “estamos dispostos a agir coletivamente, de uma maneira atempada e decisiva, através do Conselho de Segurança, (...) se os meios pacíficos se revelarem insuficientes e as autoridades nacionais não estiverem manifestamente a proteger as suas populações”( §139) [14].
Os promotores da R2P muitas vezes apresentam esses itens como uma consagração. Na verdade, a passagem do relatório de 2001 para a Cúpula Mundial de 2005 é o oposto de uma promoção : é uma desvalorização do conceito. Vários Estados, incluindo a China, a Rússia, vários Estados do G77 e do movimento dos Países Não Alinhados, mas também e especialmente os Estados Unidos fizeram de tudo nas negociações para reduzir sua abrangência. John Bolton, embaixador americano na ONU, foi muito claro na sua carta de 30 de agosto de 2005 : “a obrigação/responsabilidade referida no texto não é jurídica (...). Nós não aceitamos que a ONU como tal, ou o Conselho de Segurança, ou os Estados individuais, tenham uma obrigação de intervir segundo o Direito Internacional” [15].
O que dizem exatamente os artigos 138-139 sobre a “responsabilidade” ? Que ela incumbe primeiramente ao Estado em cujo território abusos acontecem potencialmente (art. 138). Até agora, nada de novo : essa responsabilidade interna, que tem o Estado de proteger seus próprios cidadãos, existe no Direito Internacional dos Direitos Humanos há décadas (por exemplo, na Convenção contra o Genocídio de 1948 ). A responsabilidade que nos interessa, aquela que esparamos, é da responsabilidade internacional que permitiria – ou, melhor, obrigaria – os Estados terceiros a agir.
O artigo 139 indica que os Estados se consideram “dispostos a agir coletivamente, de uma maneira atempada e decisiva, através do Conselho de Segurança”, com certas condições. Estar disposto para fazer alguma coisa, não é dever fazê-lo. Onde está a Responsabilidade de Proteger que se anunciava ? Quando se diz que os bombeiros ou a polícia têm a responsabilidade de proteger as populações, não significa que eles estão dispostos a fazer alguma coisa se quiserem, mas que eles devem fazê-la, que eles têm uma obrigação profissional de fazê-la, eles não podem não agir. Nada de semelhante se verifica no cenário internacional.
Seria necessário toda essa agitação para afirmar o que já se sabe há muito tempo, que o Conselho de Segurança pode autorizar uma intervenção “em virtude do Capítulo VII” ? O que há de novo nesses dois parágrafos ? Absolutamente nada que já não esteja na Carta [16].
Não só esses artigos de 2005 não trazem nada de novo, como também podemos dizer que eles desvalorizam e prejudicam o conceito de R2P, sendo menos audaciosos que o relatório de 2001. Primeiramente, a ideia de um “código de conduta” – uso racional ou limitado do direito de veto em situação de catástrofe humanitária – como proposto pelo ICISS em 2001 [17] e pelo Grupo de Alto Nível, em 2004 [18], foi abandonada.
Em segundo lugar, o objetivo inicial era de que a R2P fosse ativada quando o Estado, em cujo território a catástrofe humanitária ocorre, não pode ou não quer agir. Na versão em inglês do documento da ONU, fala-se em “manifest failure” (fracasso manifesto) – a expressão é mais forte. Aumentar o limite a partir do qual a responsabilidade internacional é ativada enfraquece novamente o conceito.
Terceiro, falava-se inicialmente de “responsabilidade coletiva”. Em 2005, é uma questão de responsabilidade “onusiana”, através do Conselho de Segurança, que exclui qualquer alternativa – à qual a ICISS não renunciava. Na prática, porém, a pergunta surgirá. E os artigos 138-139, ao contrário da ICISS, ignoram-na admiravelmente : eles não dizem o que fazer se o Conselho de Segurança não tem nem a capacidade, nem a vontade de agir – como é o caso hoje na Síria.
Em quarto lugar, a referência explícita ao Capítulo VII confere força ao texto, mas ao mesmo tempo implica que não é a violação dos direitos humanos por um Estado que, en soi (em-si) permite o uso da força, mas o fato de que ela ameaça a paz e a segurança [19]. Isso reduz as chances de que o texto seja aplicado, já que não é preciso apenas que ocorra uma catástrofe humanitária, é preciso ainda provar que ela constitui uma ameaça à paz e à segurança. Essas concessões foram o preço a ser pago para que os Estados-membros chegassem a um consenso mínimo. Alguns falam dessa versão onusiana como de uma “R2P amenizada” [20].
A Líbia não é seu batismo de fogo
Ao contrário de outro preconceito generalizado, o Conselho de Segurança não esperou a R2P para justificar as intervenções militares por razões humanitárias. E a intervenção na Líbia não é a primeira desse tipo. Ele o fez na Somália (resolução 794 de 1992), no Haiti (resolução 940 de 1994), em Ruanda (resolução 929 de 1994), na Bósnia-Herzegovina (resolução 836 de 1993, 1031 de 1995, 1088 de 1996), na Albânia (resolução 1101 de 1997) e no Timor Leste (resolução 1264 de 1999) – e a cada vez usou de “todos os meios necessários” para permitir a entrega de ajuda humanitária ou garantir a implementação de um cessar-fogo ou de um acordo de paz. O surgimento do conceito de R2P não mudou nada desse ponto de vista, já que a tendência “delineou-se há quase 20 anos” [21]. Ela também se manifestou para a Costa do Marfim (resolução 1933 de 2010 e 1975 de 2011), onde a ONUCI e as forças francesas foram autorizadas “a usar todos os meios necessários” para “assegurar a proteção de civis” e na Líbia (resolução 1973 de 2011), nos mesmos termos. Portanto, pode ser difícil distinguir o que seria uma resposta “com R2P” a uma crise humanitária, de uma resposta “sem R2P” – e ao mesmo tempo ver o valor da R2P [22]. Como resumiu bem Hehir “apesar do relatório ICISS, do documento final da Cúpula Mundial de 2005 e do debate de 2009 na Assembleia Geral, a forma pela qual se trata, e se pode legalmente tratar, uma crise humanitária intra-estatal hoje é exatamente a mesma que em 1990” [23].
A resolução 1973 é, porém, original, por uma razão : é a primeira vez que o Conselho de Segurança autoriza uma intervenção militar com fins humanitários, sem o consentimento de um Estado funcional [24]. Em casos anteriores, ou o Estado era concordante, ou não existia Estado, ou ele não era funcional. Porém, de um ponto de vista jurídico, isso não muda nada, já que o consentimento do Estado-alvo é indiferente a uma resolução aprovada nos termos do Capítulo VII [25]. É o que esquecem aqueles que, como Bellamy [26] descrevem- na como histórica, única ou excepcional. Eles o fazem geralmente porque defendem a R2P e estimam que essa resolução tenha um papel na construção de uma norma.
Muito se falou que essa resolução 1973 foi baseada na R2P e marcou o seu “batismo de fogo” [27], “um teste para a doutrina” [28]. É assim que a resolução 1973 é apresentada na mídia – mas nunca citada. E por uma razão : a única responsabilidade referida nessa resolução é aquela, interna, “que incumbe às autoridades líbias de proteger a população líbia”, não aquela, externa e subsidiária, que incumbiria à “comunidade internacional” de intervir. A parte da R2P mobilizada na resolução 1973 é aquela que existe no Direito Internacional desde a Convenção contra o Genocídio de 1948 [29]. Se a R2P, entendida como responsabilidade externa da “comunidade internacional” fosse a norma que seus promotores dizem que é, o Conselho de Segurança a teria invocado explicitamente. Ele não o fez.
A R2P não oferece nada de novo
A R2P não propõe “nada de novo”, como reconheceu Francis Deng [30]. Isto é o que deveria ser lembrado tanto aos seus promotores zelosos que falam de uma nova norma, quanto aos críticos anti-intervencionistas que consideram-na como um novo perigo. A R2P não pode ser esta “expansão do direito de intervir militarmente” que deplora Jackson [31], pois ela não é a expansão de nada : é mais um lembrete da legislação em vigor. Seu reconhecimento pela Assembleia Geral em 2005 e depois em 2009 não foi um engajamento inovador, mas um engajamento para manter o status quo.
Noção retórica [32], ela é somente uma inovação terminológica [33]. Já em 1991, na Assembleia Geral, a URSS notava que as reticências a respeito da “intervenção humanitária” podiam ser removidas simplesmente renomeando-a “solidariedade humanitária” [34]. É um pouco esse deslocamento que, dez anos depois, a R2P oferece : isso não resolve os problemas.
Uma palavra cujo conteúdo é removido, e que é escolhida apenas por suas qualidades “comerciais” merece o nome de slogan [35]. A R2P é em escala mundial o que o direito de ingerência foi em escala francófona : um conceito mais ou menos sem sentido, mas dotado de um alto potencial de marketing, e defendido por promotores eficazes.
A R2P não é uma obrigação jurídica
A crítica mais fundamental que pode ser feita à R2P é que, como o direito de ingerência, ela descreve algo que não existe. Em princípio, a responsabilidade é uma obrigação. Ela não implica poder intervir quando nos convém, mas dever fazê-lo. Então, onde está esse dever ?
Para começar, ele está completamente ausente do relatório de 2001. A ICISS escolheu um termo ambíguo, “responsabilidade”, usado como um eufemismo para evitar falar em dever. No entanto, não é a mesma coisa ? O que significa a Responsabilidade de Proteger, senão o fato de ter o dever de proteger ? [36] O relatório da ICISS, que em seu título fala de responsabilidade, não explica nem justifica em nenhum lugar em que a intervenção seria mais uma responsabilidade que uma permissão, mais um dever que um direito [37].
Os promotores da R2P geralmente a apresentam como uma revolução jurídica [38], ou pelo menos uma etapa normativa significativa [39]. Conforme solicitava o embaixador americano, John Bolton, ainda não há nenhuma obrigação jurídica de agir. Se a R2P era uma noção jurídica, isto é, se essa “responsabilidade” fosse levada a sério, não cumpri-la implicaria em punição [40]. A R2P poderia ser compreendida à luz dos Artigos sobre a responsabilidade do Estado por ato internacionalmente ilícito da (CDI) e deduziríamos que a ausência de tal responsabilidade seria um ato ilegal. Esse não é o caso.
O efeito normativo da R2P provém da soft law. Ele é bem resumido pelo embaixador do Brasil na ONU em 2009 : a R2P “não é um princípio em si, e muito menos uma nova disposição legal. É, antes, um forte apelo político para todos os Estados, para que eles respeitem as obrigações legais já consagradas na Carta, as convenções dos direitos humanos (...) e outros instrumentos relevantes” [41].
A R2P não é um progresso, é uma admissão de fracasso
A R2P não é nada além de um apelo político e, de um ponto de vista realista, é uma fraqueza, porque depende inteiramente da vontade política dos Estados, que nunca a mostraram muito quando não era do seu interesse fazê-lo. A R2P presume que a pressão moral tem a capacidade de alterar o comportamento dos Estados. Uma crença que pode parecer ingênua, se acredita-se nos inúmeros apelos do mesmo tipo desde 1945 – especialmente os vibrantes “nunca mais !”– que nunca foram muito eficazes. Darfur, por exemplo, tem causado uma indignação global e uma pressão considerável por parte da assim chamada “sociedade civil global”, em vão. Há evidências de que esses esforços não são suficientes para mudar a inclinação dos Estados, que baseiam principalmente suas decisões no uso da força em considerações de interesse nacional.
Mas os dois não são necessariamente incompatíveis, já que o interesse nacional também inclui a imagem de si, aquela que queremos projetar no cenário interior e exterior. E essa imagem, por razões tanto identitárias quanto instrumentais, poderá integrar a defesa dos direitos humanos. A pressão moral tem, em certa medida, a capacidade de mudar o comportamento dos Estados porque os Estados compreendem que cada vez mais é de seu interesse parecer moral. Contudo, este incentivo é limitado, porque é contrabalançado com outros interesses materiais (o custo da intervenção versus seus potenciais lucros).
A existência de R2P é precisamente a prova de que os Estados não honram os seus engajamentos, porque, se o fizessem, nunca precisaríamos deste “novo” conceito, pois o quadro normativo existente, aquele do Direito Internacional dos Direitos Humanos, seria suficiente. A esmagadora maioria dos Estados já se engajou, há décadas, em convenções e tratados, declarações e promessas, para proteger seu povo e não massacrá-lo. Essas promessas devotas não impediram nada.
Dizer que agora é necessário acrescentar uma responsabilidade internacional é reconhecer implicitamente que essa responsabilidade até então apenas interna (do Estado para a sua própria população) falhou. Mas se os Estados são incapazes de proteger a sua própria população, apesar de seus engajamentos internacionais, por que deveríamos acreditar, em nome destes engajamentos internacionais, que agora eles seriam capazes de proteger a população dos outros ? [42] O paradoxo é que a R2P recai inteiramente sobre a vontade política, enquanto a sua própria existência é a prova da falta de vontade política. Ela é uma admissão de fracasso, e ao mesmo tempo promessa de fracasso.
A R2P não é atribuída
Com exceção de uma minoria falando de um “dever de intervir”, e aqueles na França que confundem o dever e o direito de ingerência, a maioria dos intervencionistas defendem um direito. Isso tem várias vantagens, incluindo aquela de justificar a seletividade, ou seja, o ato de intervir no Kosovo, mas não na Chechênia, no Timor, mas não no Tibete, na Líbia, mas não na Síria. Se a intervenção fosse um dever, seria mais difícil explicar porque as razões que nos obrigam aqui não nos obrigam ali, quando as duas situações são semelhantes.
Falar de “Responsabilidade de Proteger” é desse ponto de vista muito mais problemático, uma vez que desloca o debate para o campo do dever. Pode-se sempre nuançar distinguindo, com Kant, deveres perfeitos e imperfeitos : alguns acreditam que o dever de intervir é perfeito, isto é, realmente obrigatório, no sentido de que é proibido não fazer [43] ; outros que ele é imperfeito, ou seja, desejado, mas não obrigatório, por exemplo o dever de caridade. Os primeiros, que defendem um dever forte, supõem que existe uma obrigação legal de intervir. Isso é falso, como acabamos de ver. Os segundos, que defendem um dever fraco, reduzem-no a sua dimensão merecedora, cumpri-lo é louvável, mas não necessário. Esse dever imperfeito não assusta ninguém, pois nada mais é que uma obrigação “apenas” moral, uma caridade que podemos escolher fazer ou não, dependendo das circunstâncias. O que os Estados querem evitar – o que eles conseguiram evitar nas negociações dos artigos 138-139 de 2005 – é um dever perfeito de intervir, o que, portanto, não existe.
Uma das razões pelas quais o dever de intervir é apenas imperfeito é que ele não é atribuído. A intervenção, explica Walzer, “é um dever imperfeito – um direito que não pertence a nenhum agente em particular. Alguém deve intervir, mas nenhum Estado em particular na sociedade dos Estados é moralmente obrigado a fazê-lo” [44]. Esse problema da agência (agency), que a maioria dos críticos acreditam ser “insuperável” [45], é grave porque, para ser eficaz – mesmo para ser real – um dever precisa de um agente. É o que Tan chama de “condição da agência” : um dever só pode se tornar real por meio de um agente particular [46]. Se a R2P é um dever, ela é um dever sem agente, que não pode se tornar real.
Este é um dos pontos fracos do vocábulo da R2P em comparação com aquele da intervenção, pois ele implica a existência de uma “comunidade internacional” a qual se referem os artigos 138-139. É a ela, em princípio, que é atribuido o dever de intervir. Mas a comunidade internacional não existe. Ela existe somente quando alguns Estados decidem agir em seu nome. Falar da “comunidade internacional”, mesmo de “Nações Unidas”, é mais expressar um desejo (formar uma comunidade, estar unidos), que uma realidade.
Um dever não claramente atribuído também é perigoso, porque pode ser reivindicado por qualquer um a qualquer momento para intervir quando não seria necessário, ou, inversamente, porque ele pode ser evitado por aqueles que não querem intervir quando deveriam. Um dos efeitos perversos dessa responsabilidade difusa é realmente incentivar a inação. O corolário, do ponto de vista das vítimas, como elas não gozam desse direito, o direito de serem protegidas, é que não podem invocar qualquer obrigação da “comunidade internacional” para pedir ajuda [47]. A R2P não gera nenhum dever estrito de intervir. Na melhor das hipóteses, ela prevê o direito de fazê-lo, que é um “direito-liberdade”, não um “direito-crença” [48].
A R2P não está imune à acusação de neocolonialismo
Como dever imperfeito, a R2P é uma responsabilidade (responsibility) sem imputabilidade (accountability), ou seja, tem a particularidade de não envolver prestação de contas. O Estado que intervém sob a R2P é “responsável” sem ser “devedor”. Essa é a lógica do paternalismo [49]. Isso deveria nos lembrar que os melhores defensores de um dever de intervir foram os intervencionistas do século XIX que invocavam razões messiânicas : as grandes potências tinham não só o direito de intervir, tinham ainda o dever de fazê-lo, e essa responsabilidade lhes incumbia, porque elas eram os únicos depositários da “civilização”.
Falar hoje de “Responsabilidade de Proteger” é dizer que alguns países, aqueles que (se) reconhecem essa responsabilidade, sentem-se envolvidos em uma missão, e não de civilização, mas de resgate – a distinção pode parecer tênue e recordar lembranças ruins. Durante as negociações da Cúpula Mundial em 2005, vários países em desenvolvimento se opuseram ao conceito precisamente por causa de suas conotações neocolonialistas [50]. Durante o debate na Assembleia Geral em 2009, no entanto, o argumento de que a R2P seria um cavalo de Tróia foi amplamente rejeitado pelos países ditos “do Sul”, que reconheceram que o princípio já estava no artigo 4(h) do Ato Constitutivo da União Africana (2000), e que ele não era especificamente ocidental. Na prática, contudo, é evidente que são sempre as mesmas potências que intervêm desde o século XIX.
Eis o paradoxo : a R2P foi construída como uma alternativa ao conceito de “intervenção humanitária” em particular, acusando-o de ter herdado conotações colonialistas das intervenções humanitárias do século XIX e de permitir os abusos, isto é, a invocação de razões humanitárias, por razões, na realidade, de interesse nacional. Mas a R2P não é imune aos abusos em maior proporção : o fato de que por direito ela só pode ser exercida com a autorização do Conselho de Segurança não impediu a Rússia de invocá-la para justificar a invasão da Geórgia, em agosto de 2008 e a França sua vontade de usar a força para entregar ajuda humanitária à Birmânia, em maio do mesmo ano. Dois episódios que, por motivos diferentes – um de fato (a Geórgia não cometia atrocidades em massa ou genocídio na Ossétia do Sul), o outro de aplicabilidade (a R2P não se aplica aos desastres naturais, como um ciclone) – refletem um desvio do princípio.
Não apenas a R2P não evita os abusos que ela pretende contornar mas também, como uma responsabilidade ou dever, tem algo que lembra “o fardo do homem branco” da colonização [51].
Criticar a R2P não implica abandonar o intervencionismo
Porque a R2P realmente não oferece nada de novo e o vocabulário que ela usa é problemático, pode-se ser cético a seu respeito. É o que explica que o termo “intervenção humanitária” não está prestes a desaparecer [52], ainda mais pelo fato de que eles não designam a mesma coisa, já que a R2P é muito mais ampla do que a intervenção, que é apenas um de seus meios que eu prefiro chamar de “intervenção militar justificada por razões humanitárias”. Assim, não se pressupõe que a intervenção seja humanitária, ou mesmo que ela seja para fins humanitários. Diz-se apenas que ela é justifica por razões humanitárias. Trata-se de uma abordagem descritiva mais cautelosa.
A intervenção humanitária nada mais é que um discurso, uma forma de justificação, o que Foucault chamava de “regime de verdade”. O pós-modernismo não é a mais clara das correntes como teoria das relações internacionais, mas se há um ponto em que temos de dar-lhe razão é este : nós não temos acesso ao mundo en soi. Ao que temos acesso é sempre um pour soi, uma construção discursiva produzida pelos atores e observadores.
Eu insisto no fato de que é possível criticar a R2P sem ser anti-intervencionista – o que não nos revela imediatamente uma paisagem doutrinal bastante dividida. De um lado estão os promotores da R2P, que compõem o que Aidan Hehir justamente chama de “a indústria da R2P [que] chegou a um ponto em que tornou-se aparentemente impossível para alguns reconhecer que essa estratégia não funcionou” [53]. Do outro lado, a maioria dos críticos da R2P são soberanistas anti-intervencionistas, seja em nome da realpolitik ou de um legalismo estreito, opõem-se ao princípio de intervir militarmente em território estrangeiro por razões humanitárias.
Alguns, no entanto, incluindo Aidan Hehir e eu mesmo, defendem uma terceira via, que critica a R2P sem renunciar a legitimidade da intervenção, em alguns casos e com certas condições [54].
Tradução Narceli Piucco
Março de 2013
[1] CIISE, La responsabilité de protéger, Ottawa, Centre de recherches pour le développement international, 2001.
[2] G. Rolin-Jaequemyns, “Le droit international et la phase actuelle de la question d’Orient”, Revue de droit international et de législation comparée, 8, 1876, p. 369.
[3] P. Fauchille, Traité de droit international public, 8. ed., Paris, Rousseau & Cie, 1922, p. 565.
[4] C. Dupuis, “Liberté des voies de communication. Relations internationales”, Recueil des cours de l’Académie de droit international, 2, 1924, p. 389 e “Règles générales du droit de la paix”, Recueil des cours de l’Académie de droit international, 32, 1930, p. 109.
[5] A. Rougier, “La théorie de l’intervention d’humanité”, Revue générale de droit international public, 17, 1910, p. 495.
[6] F. Deng et al., Sovereignty as Responsibility : Conflict Management in Africa, Washington D. C., Brookings, 1996, p. 4 e 6. Sobre a gênese da ideia de soberania-responsabilidade e sua articulação com a R2P, ver F. Deng, “From ‘Sovereignty as Responsibility’ to the ‘Responsibility to Protect’”, Global Responsibility to Protect, 2, 2010, p. 353-370.
[7] K. Annan, Nous, les peuples. Le rôle des Nations Unies au XXIème siècle, Nova York, 2000, §219.
[8] Rapport du Secrétaire général sur l’activité de l’Organisation, 2000, 55ª session, Supl. n°1, UN Doc. A/55/1, §37, p. 5.
[9] B. Kouchner, Ce que je crois, Paris, Grasset, 1995, p. 50.
[10] Le Monde, 24 de setembre de 2011, p. ARH5 e ARH1.
[11] T. Allen e D. Styan, “A Right to Interfere ? Bernard Kouchner and the New Humanitarianism”, Journal of International Development, 12:6, 2000, p. 826.
[12] UN Doc. A/63/677, 12 de janeiro de 2009.
[13] The Globe and Mail, 8 de maio de 2008.
[14] UN Doc. A/60/L.1 (2005).
[15] Carta de John Bolton às Nações Unidas, de 30 de agosto de 2005.
[16] L. Boisson de Chazournes e L. Condorelli, “De la ‘responsabilité de protéger’, ou d’une nouvelle parure pour une notion déjà bien établie”, Revue générale de droit international public, 110:1, 2006, p. 13 e O. Corten, Le droit contre la guerre. L’interdiction du recours à la force en droit international contemporain, Paris, Pédone, 2008, p. 777.
[17] CIISE, op. cit., §6.21, p. 56.
[18] Un monde plus sûr : notre affaire à tous, UN Doc. A/59/565 (2 de dezembro de 2004), §256.
[19] J. Welsh, “The Responsibility to Protect : Securing the Individual in International Society”, in : B. J. Goold e L. Lazarus (eds.), Security and Human Rights, Portland, Hart Publishing, 2007, p. 379.
[20] T. Weiss, Humanitarian Intervention : Ideas in Action, Cambridge, Polity, 2007, p. 117.
[21] O. Corten e B. Delcourt, “L’intervention militaire en Libye:une avancée du droit international ?”, Politique, revue de débats, 70, 2011, p. 5-7.
[22] D. Chandler, “Understanding the Gap Between the Promise and Reality of the Responsibility to Protect”, in : P. Cunliffe (ed.), Critical Perspectives on the Responsibility to Protect : Interrogating theory and practice, Londres, Routledge, 2011, p. 23.
[23] A. Hehir, The Responsibility to Protect : Rhetoric, Reality and the Future of Humanitarian Intervention, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012, p. 85.
[24] P. Williams, “The Road to Humanitarian War in Libya”, Global Responsibility to Protect, 3, 2011, p. 249 e A. Bellamy, “Libya and the Responsibility to Protect : The Exception and the Norm”, Ethics & International Affairs, 25:3, 2011, p. 263.
[25] S. Chesterman, “‘Leading from Behind’ : The Responsibility to Protect, the Obama Doctrine, and Humanitarian Intervention after Libya”, Ethics & International Affairs, 25:3, 2011, p. 280.
[26] A. Bellamy, “Libya and the Responsibility to Protect“, op. cit., p. 263-264.,
[27] Le Monde, 22 avril 2011, p. 16.
[28] J. Pattison, “Introduction to Roundtable : Libya, RtoP, and Humanitarian Intervention”, Ethics & International Affairs, 25:3, 2011, p. 252.
[29] Idem para a resolução 1996 (8 julho de 2011), cuja versão original inglesa invoca somente a “responsabilidade” do governo da República do Sudão do Sul “de proteger os civis”(art.3 (b) (iv)).
[30] Ele afirma a A. Hehir em uma entrevista em 20 de agosto de 2009, Nova York (A. Hehir,“ The Responsibility to Protect and International Law”, in : P. Cunliffe (ed.), op. cit., p. 93).
[31] R. Jackson, “War Perils in the Responsibility to Protect”, Global Responsibility to Protect, 2:3, 2010, p. 315.
[32] S. Chesterman, “Leading from Behind”, op. cit., p. 281.
[33] L. Boisson de Chazournes e L. Condorelli, op. cit., p. 13.
[34] J. Chopra e T. Weiss, “Sovereignty Is No Longer Sacrosanct : Codifying Humanitarian Intervention”, Ethics & International Affairs, 6:1, 1992, p. 108.
[35] F. Mégret, “La responsabilité de protéger : encore un slogan”, Le Devoir, 27 de março de 2006, p. A7 ; H. Hannum, “The Responsibility to Protect : Paradigm or Pastiche ?”, Northern Ireland Legal Quarterly, 60:2, 2009, p. 145 e A. Hehir, Humanitarian Intervention : An Introduction, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2010, p. 219.
[36] D. Rodin, “The Responsibility to Protect and the Logic of Rights”, in : O. Jütersonke e K. Krause (eds.), From Rights to Responsibilities : Rethinking Interventions for Humanitarian Purposes, Geneva, Programme for Strategic and International Security Studies (PSIS), 2006, p. 58.
[37] K.-C. Tan, “The Duty to Protect”, in : T. Nardin e M. S. Williams (eds.), Humanitarian Intervention, Nomos XLVII, Nova York, New York University Press, 2006, p. 88.
[38] “Uma revolução em direito internacional ”diz, por exemplo, Ernesto Zedillo, diretor do Yale Center for the Study of Globalization, quando ele apresenta Gareth Evans para sua conferência em Yale Law School, em 20 de fevereiro de 2009.
[39] A. Bellamy, Global Politics and the Responsibility to Protect : From Words to Deeds, London, Routledge, 2011, p. 6.
[40] D. Rodin, “The Responsibility to Protect and the Logic of Rights”, op. cit., p. 60.
[41] Brazil, Plenary Meeting of the General Assembly on the R2P, 23 de julho de 2009.
[42] A. Hehir, The Responsibility to Protect, Ibid., p. 144-145.
[43] C. Bagnoli, “Humanitarian Intervention as a Perfect Duty : a Kantian Argument“, in : T. Nardin e M. S. Williams (eds.), Humanitarian Intervention, Nomos XLVII, Nova York, New York University Press, 2006, p. 117-140.
[44] M. Walzer, “Preface to the Third Edition”, in Just and Unjust Wars, 3rd ed., Nova York, Basic Books, 2000, p. xiii.
[45] P. Cunliffe, “A Dangerous Duty : Power, Paternalism and the Global ‘Duty of Care’”, in : P. Cunliffe (ed.), op. cit., 2011, p. 52.
[46] K.-C. Tan, “The Duty to Protect ”, op. cit., p. 96.
[47] J. Welsh e M. Banda, “International Law and the Responsibility to Protect : Clarifying or Expanding States’ Responsibilities ?”, Global Responsibility to Protect, 2, 2010, p. 219.
[48] D. Rodin, “The Responsibility to Protect and the Logic of Rights”, op. cit., p. 55.
[49] P. Cunliffe, “A Dangerous Duty”, op. cit., p. 62.
[50] J. Welsh, “The Responsibility to Protect”, op. cit., 2007, p. 367.
[51] Entrevista com T. Pogge, Yale University, fevereiro de 2009. Ver também M. Ayoob, “Humanitarian Intervention and State Sovereignty”, International Journal of Human Rights, 6:1, 2002, p. 84-85.
[52] T. Weiss, Military-Civilian Interactions : Humanitarian Crises and the Responsibility to Protect, 2nd ed., Lanham, Rowman & Littlefield, 2005, p. 200.
[53] A. Hehir, The Responsibility to Protect, Ibid., p. 7.
[54] J.-B. Jeangène Vilmer, La Guerre au nom de l’humanité. Tuer ou laisser mourir, prefácio de Hubert Védrine, Paris, PUF, 2012.


